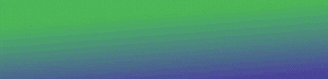Betty Milan resgata suas raízes em seu novo livro
Em Baal - Um Romance de Imigração, a autora conta a história de uma família libanesa que imigra para o Brasil e vê sua cultura cair no esquecimento

O incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, aconteceu no dia 2 de setembro do ano passado. Betty Milan não se esqueceu dele. “Provavelmente vai ser o tema do meu próximo livro”, revelou a autora paulistana que está lançando Baal – Um Romance de Imigração (Record), sua décima obra ficcional.
Pouco tempo depois do encontro da escritora e psicanalista com CLAUDIA, arderia em chamas também a Catedral de Notre Dame, em Paris, no dia 15 de abril. Para Betty, essas tragédias são exemplos do resultado mais grave do processo coletivo de esquecimento histórico pelo qual toda a humanidade passa. “Quando não nos lembramos do que já vivemos, repetimos os mesmos erros”, reflete.
Seu novo livro reforça o argumento. Relata a jornada rumo ao fim da ancestralidade libanesa de uma família imigrante no Brasil. No romance, o narrador indaga de seu túmulo as razões pelas quais seus herdeiros decidem destruir o palacete construído por ele com o suor do trabalho. A premissa de Baal é a de que a memória é uma ferramenta de compreensão de mundo complexa, calcada na alteridade e no amor. A autora, ela própria de ascendência libanesa, recebeu CLAUDIA em seu apartamento, em São Paulo, e discutiu como a literatura pode humanizar a história.
A história da sua família foi inspiração para o livro?
Na verdade, meu enredo familiar sempre me incomodou muito. Passei a infância no tal palácio que foi destruído – pertencia ao lado materno da família. Ele poderia ter sido um memorial da imigração; ali os cidadãos do Líbano eram recebidos quando chegavam ao Brasil. Aquilo era um ponto muito importante da história da civilização. Para mim, a demolição desse palácio foi um drama. Para minha família e para a cidade também. Então, acabei me debruçando sobre esse acontecimento. Enquanto a família do meu pai vem de um vilarejo no Líbano, no Vale do Beca, a da minha mãe é da zona urbana, de Zahlé. Esta última foi sistematicamente omitida. Do bisavô que serviu de inspiração para o narrador do livro, eu encontrei só uma foto. O que descobri veio após muita escavação. Soube que ele começou a vida como caixeiro-viajante, depois migrou para a exportação de madeira até que comprou uma fazenda gigantesca. O trem tinha que passar no meio dela de tão grande. Meu bisavô foi um dos imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil no século 19 e tiveram papel importantíssimo no país. Foram eles que trouxeram o comércio por meio do crédito, da negociação, tal qual a cultura fenícia. Fiz uma elaboração assentada na minha pesquisa sobre o Oriente Médio e o imaginário desses imigrantes e no que pude achar desse bisavô. Já havia recuperado lembranças do lado paterno no meu primeiro romance, O Papagaio e o Doutor (Record, 1998), baseado na minha análise com Jacques Lacan.
Por que recuperar essa história agora?
Eu senti na pele. Perdi o lugar onde passei a infância, assisti à oposição entre os membros da família. Existe em mim uma indignação enorme diante da destruição da memória. Grande parte do mobiliário tinha vindo da Síria. Havia uma sala francesa também, com peças originais. Tudo foi feito com o maior capricho. Era um museu e foi arrasado. É o que estamos fazendo com o Brasil também, arruinando a nossa memória. Os piores exemplos disso, além dos ataques às pessoas, são casos como o do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que deverá ser tema do meu próximo livro. O esquecimento é uma questão central para a civilização. Por causa dele, a gente repete os mesmos erros. A memória é algo que tem tomado o meu interesse profundamente.

Como acessar essa memória ancestral?
O imigrante tende a omitir a sua história porque ele imagina que isso facilitará o processo de integração de seus descendentes. No entanto, essa proposta caminha para um resultado oposto. Torna contraditória a relação com o país em que ele vive. Por um lado, a nação amada é a mesma que ele foi obrigado a deixar; então há uma recusa do país em que está radicado. Por outro, existe uma xenofobia de si mesmo nessa tentativa de integração. Essa “autoxenofobia” caracteriza um dos personagens do livro que, depois de dilapidar a fortuna que herdou, deseja demolir o palácio criado por seu ancestral. O descendente é instigado a se integrar em um país que o próprio ancestral despreza – porque preferiria voltar para sua casa – e no qual ele, por ser descendente de imigrante, é desprezado pelos nativos. Assim, a imigração é uma ferida narcísica muito grave.
É possível resolver essa questão internamente? Para além disso, falando do aspecto externo, o que é preciso para acabar com a xenofobia?
Percebi que a imigração é inevitável, porque a guerra é inevitável. Isso posto, só há civilização enquanto o direito ao asilo existir. A única maneira de vencer a xenofobia é pela linguagem. Espontaneamente, nós gostamos daquilo que é semelhante. Para gostar do diferente, é preciso ouvi-lo. Se ele tem a possibilidade de falar, de vencer o silêncio transmitido por seus ancestrais, ele se humaniza e é capaz de humanizar o outro. Por fim, vale lembrar que a desigualdade entre homens e mulheres é um fator que agrava essa perda da memória. No livro, o personagem principal conclui que foi o fato de não ter considerado possível a capacidade da filha em gerenciar o tal palacete que levou à demolição do edifício. O primeiro “memoricida” da família, nesse sentido, é ele. As mulheres que o cercam são amadas como mães, mas desautorizadas como mulheres. E isso ainda é realidade até hoje no Oriente e no Ocidente.
Leia mais: Conheça a história da primeira deputada brasileira a ser eleita na Espanha
+ Charliza Theron fala sobre o desafio de ser a mulher que sempre quis ser
Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA


 4 coisas de filmes pornôs que iludem a vida sexual
4 coisas de filmes pornôs que iludem a vida sexual Sugador de clitóris: O brinquedo sexual que aumenta o prazer
Sugador de clitóris: O brinquedo sexual que aumenta o prazer Marca lança fantasia sexy de ‘The Handmaid’s Tale’ e enfurece a internet
Marca lança fantasia sexy de ‘The Handmaid’s Tale’ e enfurece a internet Novo pra quem?
Novo pra quem?