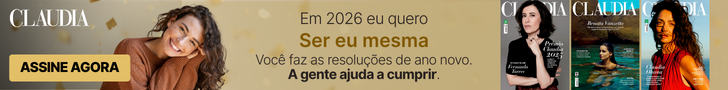As mulheres atrás das máscaras no combate à pandemia
Os bastidores de cinco semanas de luta e preparação para o momento mais sombrio da Covid-19 no Brasil pelo olhar das profissionais que salvam vidas

O ritual é extenso. Roupas são trocadas por um traje que cobre todo o corpo; por cima, um avental grosso e impermeável isola ainda mais a pele de qualquer contato com o exterior. Os cabelos são escondidos por um gorro. Enluvadas, as mãos perdem a sensação do toque. No rosto, não se vêem as expressões, ocultas por camadas de protetores contra o perigo invisível. Não resta nenhum traço de individualidade. A rotina precede a submersão nas áreas de combate mais intenso contra a pandemia da Covid-19. Não é possível salvar vidas se a própria vida dos profissionais de saúde não estiver preservada. Na saída de mais um dia ou noite de trabalho, despir-se de tantas sobreposições, frequentemente com feridas causadas pelo material, que não foi feito para oferecer conforto, não significa retornar à normalidade.
Fora das unidades de terapia intensiva (UTIs) e dos pronto-socorros, a tristeza pelo que veem e a angústia por seus esforços muitas vezes não bastarem permanecem com as mulheres que atuam na saúde atualmente. Há ainda aquelas que tomam as decisões, as que protegem vidas fora das salas de emergência, as que estão em lideranças de instituições públicas. Elas também têm medo. Desde que foi detectada a transmissão comunitária do novo coronavírus, em março, acompanhamos, de perto ou à distância, o trabalho de dezenas de mulheres profissionais de saúde. Aqui, revelamos a rotina delas.
Semana de 16 a 22 de março
Vinte dias após o primeiro diagnóstico de Covid-19, em 26 de fevereiro, o Brasil contabilizava uma morte. Medidas firmes de distanciamento social começavam a ser impostas para conter a disseminação do vírus. Sabendo que os doentes iriam aumentar nos pronto-socorros pediátricos do Hospital Albert Einstein e do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, a médica Anarella Meirelles, 41 anos, tomou a decisão de se afastar dos três filhos (de 9, 5 e 3 anos), deixados com os avós no interior do estado. “Um deles me disse: ‘Só não quero que você pegue o vírus e morra’. Sei que o meu dever pode significar me contaminar, estou aqui para isso também; o medo maior é causar sofrimento a eles”, conta Anarella, que não contém as lágrimas ao falar das crianças. Os outros desafios parecem pequenos para ela. “Sempre estive no pronto-socorro, é o meu lugar. Tenho esperança de que, no fim, esse esforço sirva para, no imaginário infantil, eles me verem como uma heroína”, diz ela, que trabalhou em hospitais de campanha nas epidemias de dengue, H1N1 e febre amarela em anos anteriores.
Não faltam filhos que reconhecem nas mães as figuras mais destemidas nesse cenário completamente novo. Como gerente de infecção hospitalar de três hospitais privados de São Paulo que compõem a rede São Camilo, a infectologista Michelle Zicker, 40 anos, passou a notificar os casos suspeitos de forma exponencial e teve que colocar em ação o plano de controle da crise – que começou pelas instituições privadas. “Com as escolas já fechadas e meus filhos, de 1 e 7 anos, sem mim, quem segura as pontas é o meu marido. Sem ele, não teria como seguir nesse ritmo”, afirma a médica.

Assim que foi confirmado o primeiro caso da doença em sua unidade de trabalho, em Curitiba, Maria de Fátima Soares, 45, decidiu deixar os dois filhos (uma estudante de medicina de 23 anos e um garoto de 12) na casa do ex-marido – ela só os vê pela janela do carro, em visitas rápidas. Atualmente, Fátima atua durante o dia como técnica de enfermagem em uma unidade de saúde da família (USF) e, à noite, em plantões no pronto-atendimento (UPA). Às vezes emenda os dois em um turno de 24 horas. “De repente, o nosso mundinho de saúde da família virou de ponta-cabeça. Cada paciente com sintomas suspeitos nos acende um alerta psicológico, pois não há espaço para errar, sob o risco de nos contaminarmos. Mas sabemos que é só o começo. Cada um tem sua hora para desabar e chorar”, compartilha Fátima sobre sua equipe, composta quase totalmente de mulheres – elas são as enfermeiras à beira-leito, mais próximas dos doentes.
Todos os dias, Fátima desinfeta intensamente as mãos cerca de 30 vezes. “Tenho até aflição da esponja no banho porque minha pele já está dolorida das lavagens”, conta. Na UPA em que ela é plantonista, há quatro respiradores, aparelhos que funcionam para garantir a oxigenação sanguínea quando os pulmões fraquejam. Na falta deles ou enquanto são instalados, o ar é mantido pelo “ambu”, espécie de bexiga de borracha pressionada manualmente pelas técnicas. Poucos minutos fazendo esse movimento são suficientes para causar exaustão em quem manuseia o aparelho. “Mas quem está ali é o amor de alguém. Se precisar ‘ambuzar’ por oito horas, eu faço”, afirma.

Via de regra, pacientes graves que chegam a essas unidades são encaminhados aos hospitais de referência para a Covid-19. No Paraná, o Complexo Hospital de Clínicas (CHC), ligado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), separou nove andares e 61 respiradores para combater a doença, com capacidade de ampliação. “Em meio a isso, ainda estamos atendendo os pacientes graves com outras patologias, muitas que só são tratadas aqui em todo o estado, como trombólise causada por AVC”, diz a superintendente Claudete Reggiani, 66 anos. O hospital tem 3,5 mil funcionários (sem contar terceirizados e médicos residentes); parte deles fica abrigada nos alojamentos para atletas no Estádio Couto Pereira, sem voltar para casa.
Semana de 23 a 29 de março
Saltamos para 34 mortos, 88% deles em São Paulo. O líder do comitê estadual de contingência, o infectologista David Uip foi ele próprio diagnosticado com o novo coronavírus. Assumiu a posição interinamente a pediatra Helena Sato, 61 anos, então diretora do centro de vigilância epidemiológica. A notícia chegou a ela rompendo a aparente tranquilidade do andar que sua equipe ocupa no prédio da Secretaria da Saúde. “O David continuou em contato o tempo todo, dando orientações e diretrizes”, diz a médica, que há três décadas trabalha controlando epidemias no serviço público. Mas, até para ela, o que se vive hoje tem contornos novos. “Temos comprovação das experiências trágicas de outros países apontando que a única vacina que existe hoje é ficar em casa. Por parecer tão simples, muitos não acreditam, mas é a medida mais eficaz”, afirma.

Todos os esforços estão sendo concentrados para termos leitos suficientes, mas não podemos baixar a guarda”
Continua após a publicidadeHelena Sato, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo
Logo depois de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro tinha o maior número de casos da Covid-19. Para aliviar o já estressado sistema de saúde, houve uma corrida para abrir novas vagas. Até o início da crise, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) – conhecido como o “Hospital do Fundão”, porque está localizado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – contava com apenas 16 leitos de UTI, quase sempre ocupados. Em uma semana, a instituição recebeu 10 milhões de reais em doações (boa parte vindas de ex-alunos) para abrir 60 novos leitos de terapia intensiva em abril, quando a crise se aprofundaria. “Esperamos a chegada de um tsunami sem saber o tamanho dele. Mantenho a cabeça no trabalho intenso para deixar menos doloroso, mesmo que nem tudo dê certo”, diz a intensivista Rosana Lopes, 47, vice-diretora da divisão médica da instituição. Ela se formou na UFRJ em 1991, tendo sido treinada naquele HU, onde é funcionária há 20 anos. Durante a faculdade, conheceu o homem que hoje é seu marido. Sob a gestão de Rosana, ele também atua nas UTIs de combate à Covid-19 do mesmo hospital, que faz parte da história da família.

O carinho pelo Hospital do Fundão também fez a intensivista Rosane Goldwasser, 60 anos, abandonar a aposentadoria e se voluntariar para contribuir com os recentes esforços. “Passei os meus melhores anos lá, apoiando principalmente os jovens médicos. Queria estar presente na mais grave adversidade”, afirma ela, que presta assessoria técnica para o planejamento de crise. Após poucas semanas de trabalho, o diagnóstico de Covid-19 a afastou da rotina, mas ela pretende retornar assim que se recuperar. “Esse vírus fragiliza muito, torna você praticamente incapaz de cuidar de si mesma, de fazer o que precisa para se manter bem. É destruidor”, conta. É consenso que, agora ou mais tarde, profissionais de saúde serão atingidos pelo novo coronavírus. A preocupação em evitar isso a todo custo toma os pensamentos da enfermeira Christiane Moçali Gonzalez, 41 anos, chefe da coordenação de controle de infecções do mesmo hospital, desde o momento em que ela desperta. “Antes, eu tinha que manter os pacientes seguros; agora, é especialmente para os profissionais que eu olho. O que eu decido impacta muita gente. É como se eu tivesse mais de mil filhos sob minha responsabilidade”, diz ela.

No ambiente hospitalar, o vírus se torna especialmente contagioso quando as gotículas (da tosse de um paciente, por exemplo) se convertem em aerossol, espalhando-se mais facilmente – por isso, os equipamentos de proteção individuais (EPIs) tão reforçados para os profissionais. “A questão é que insumos que antes seriam descartados após o uso agora precisam ser reaproveitados para evitar o esgotamento”, diz Christiane, que recebe as recomendações do Ministério da Saúde e define como aplicá-las na instituição. Poupar significa estar pronta para o pico da doença, em uma equação que considera o consumo elevado e a escassez no mercado. “Se os hospitais do mundo todo estivessem orientando a usar a máscara N95 (a que mais protege contra o vírus) só uma vez e descartar, não teríamos mais nenhuma delas”, afirma a enfermeira Clarice Araújo, 33 anos, que coordena a padronização dos equipamentos e materiais do Fundão.
Se os hospitais estivessem orientando a usar a máscara N95 só uma vez e descartar, não teríamos mais nenhuma delas”
Clarice Araújo, coordenadora de equipamentos e materiais do Hospital do Fundão, no Rio
Na rotina de cuidados, lidar com a carência de materiais faz com que as profissionais cheguem ao limite – algumas delas relataram passar plantões inteiros sem descanso para evitar descartar os trajes ou correr o risco de se contaminar na troca de roupa. Nesse sentido, faz toda a diferença as doações de insumos essenciais. Tradicionalmente mantido com donativos, o hospital filantrópico da Santa Casa de São Paulo, no centro da capital paulista, formou seus kits de EPIs dessa forma. Lá foi montado um pronto-socorro na área externa para os primeiros atendimentos. “Como hospital de ‘porta aberta’, que recebe quem chega, temos muitos leitos ocupados por pacientes debilitados sem apoio familiar que não podemos deixar de atender para abrir vagas”, diz a enfermeira Karina Moraes, 40 anos, gestora da unidade de internação.
Semana de 30 de março a 5 de abril
Novas contratações foram anunciadas para suprir a demanda por cuidados, mas os riscos reduzem a oferta de profissionais. Só na semana anterior, o número de casos confirmados havia subido 161%, representando mais de 11 mil infectados no país. Pesquisadores da UFRJ constataram, por meio de testes com 700 profissionais da saúde pública até 3 de abril, que a taxa de infecção no estado girava em torno de 25%. Adaptado para atender somente doentes da pandemia, com capacidade máxima para até 380 internações, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio, teve dificuldades para completar suas vagas de médicos e enfermeiros. Quem já estava lá revezava o número limitado de proteção face shield (espécie de escudo de acetato para o rosto) para entrar nas alas de internações. Parte dos aventais impermeáveis usados tinha sido confeccionada por costureiras da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Das 7 horas da manhã às 7 da noite, com intervalos de dois dias, a acadêmica de enfermagem Claudia Peixoto, 39 anos, está de plantão nas enfermarias e UTIs do hospital.
“Os pacientes não enxergam nossos rostos, mas somos nós que estamos ao lado deles. Quando toquei com luva as mãos de um deles, que não via a família fazia vários dias, ele me agradeceu, porque ninguém tocara nele esse tempo todo”, conta Claudia, lembrando um dos casos que a marcaram nesses dias difíceis. Entre um plantão e outro nos ambulatórios para a Covid-19, cumpre o período noturno na Coordenação de Emergência Regional (CER) Leblon, que tem UTI. Por não ser um hospital de referência, a dificuldade para obter equipamentos é ainda maior; alguns estavam sendo comprados pelas próprias funcionárias até elas receberem reforço. Por fim, uma vez por semana, Claudia passa 24 horas ininterruptas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – que, durante a pandemia, atende principalmente idosos e pessoas com deficiência, para evitar idas aos pronto-socorros. O acúmulo de empregos é necessário para garantir renda para ela e os filhos, de 13 e 16 anos. A família também está vivendo em casas separadas, e o medo de Claudia aumenta conforme colegas dela são afastadas com sintomas da Covid-19.

Semana de 6 a 12 de abril
A geografia do Amazonas e a falta de hospitais em municípios do interior criam um desafio a mais. Um doente pode precisar percorrer dias de barco até outra localidade mais bem equipada e, em casos graves, ser transportado de avião UTI até Manaus, que tem o Hospital Delphina Aziz como maior unidade de referência para a Covid-19. Não há terapia intensiva fora da capital. Atualmente, os casos são muitos – até 11 de abril, eram 53 mortes confirmadas no estado. Nesse dia, a unidade viveu um de seus piores momentos. “Quando eu entubei um paciente no último dos 65 respiradores que tínhamos disponíveis, me desesperei. Sinto medo só de pensar na possibilidade de ter que escolher quem vai viver”, diz a infectologista Mayla Gabriela Borba, 34 anos, diretora técnica do hospital. Na mesma noite em que se esgotaram os respiradores, a equipe se mobilizou para abrir mais 15 leitos com a retaguarda de equipamentos disponíveis na instituição; nos dias seguintes, a cena se repetiu. A situação acendeu o alerta para a possibilidade de o sistema de saúde amazonense colapsar. “Nunca tive tantos pacientes graves ao mesmo tempo e vejo muito mais gente morrendo. Às vezes, sou a última pessoa com quem eles têm contato. É muito difícil preencher cada um dos atestados de óbito”, revela Mayla.

Quando entubei um paciente no último de nossos respiradores, me desesperei. Sinto medo só de pensar em ter que escolher quem vai viver”
Mayla Gabriela Borba, diretora técnica de hospital de referência em Manaus
Quem está submersa nas UTIs conta mortes ao ouvir o código de chamamento do maqueiro para a retirada de um corpo. “É triste estar em um plantão em que há mortes seguidas, mas, principalmente agora, tentamos nos apegar a como lutamos pela vida de cada um, quantos recuperamos”, afirma Mayara Cruz Vargas, 27 anos, fisioterapeuta intensivista do Delphina Aziz. São profissionais como Mayara que trabalham para melhorar a capacidade de respiração dos pacientes, com técnicas de reexpansão pulmonar e higiene brônquica. Também manejam os respiradores de modo a acelerar a recuperação respiratória, fazendo assim com que a ventilação mecânica não seja necessária por tanto tempo. Apesar desse papel fundamental, há hospitais sem fisioterapeutas 24 horas por dia nos centros de terapia intensiva. A médica Juliana Caldas, 35 anos, chefe intensivista de um hospital de referência em Salvador, gostaria de estar ajudando a preencher essas falhas, mas está impedida pelos sete meses de gestação. Mesmo assim, ela vai à instituição para dar força à sua equipe quase diariamente. “Se a pandemia tivesse chegado mais tarde, estaria no front, dentro da UTI. Lá é meu lugar, queria poder contribuir neste momento”, diz Juliana.

Semana de 13 a 19 de abril
A resistência às políticas de isolamento social foi alta, especialmente nas periferias das cidades, onde a maior parte dos moradores precisa continuar saindo para trabalhar e o controle sobre o fechamento do comércio é mais frágil. Mas a pandemia, que iniciou nos bairros de elite, já faz mais vítimas entre os mais vulneráveis – todos os 94 bairros de Recife, ricos ou pobres, têm casos confirmados, por exemplo. Com o tempo, os moradores de Morro da Conceição, na capital pernambucana, passaram a circular menos pelas ruas. “Eles não são impactados por uma capa de jornal com uma foto de covas abertas em São Paulo, mas por casos próximos, que já começam a aparecer”, diz Rafaela Pacheco, 39 anos, médica de família e comunidade na USF do bairro.

Só nesses dias em questão, cerca de 70 usuários da unidade (além de pessoas do convívio deles) que tiveram sintomas respiratórios estavam sendo acompanhados – a ideia é que os casos sejam identificados quanto antes, evitando a disseminação descontrolada do vírus. Quem faz esse trabalho na ponta são as agentes comunitárias do programa Saúde da Família, como Jane Diva, 55, que está no posto há 25 anos. “Todos os dias, pergunto como estão nossos usuários pelo WhatsApp; quem não tem internet é comunicado por algum vizinho ou eu vou à porta da casa da pessoa”, explica Jane, que recebeu apenas álcool em gel e cinco máscaras cirúrgicas para trabalhar. Um dos usuários com sintomas foi atendido na unidade no dia 16; o irmão, morador de outra região, havia morrido com suspeita de Covid-19. “Ele estava preocupado com a possibilidade de transmitir para a mãe, de 70 anos. No meio da consulta, me perguntou como poderia contar a ela sobre a morte do irmão”, relata Rafaela.
A tarefa de comunicar as mortes de paciente aos familiares cabe à psicóloga Cybelly Borges, 41 anos, e sua equipe no Hospital de Cuidados Intensivos (HCI), em São Luís, inaugurado no início de março para tratar apenas pacientes com a Covid-19. Oferece 80 leitos de UTI. Os parentes são chamados pessoalmente ao local. “Dizer a eles que seu ente querido veio a óbito não é a única notícia estarrecedora, mas também que o caixão não poderá ser aberto e tampouco o corpo velado. Eu me permito chorar quando estou no meu carro, voltando para casa, e me recomponho antes de continuar, no dia seguinte”, conta Cybelly, que, em uma semana, repetiu o processo três vezes. No hospital, ela ainda presta acompanhamento psicológico aos profissionais, principalmente às enfermeiras. “Além do medo e do stress, elas são estigmatizadas pela população, que se afasta ao saber onde trabalham”, diz. Com o aumento das mortes na instituição – foram oito em apenas cinco dias –, técnicos de enfermagem desistiram do posto.
Dizer que um ente querido veio a óbito não é a única notícia estarrecedora, mas também que o caixão não poderá ser aberto”
Cybelly Borges, psicóloga de hospital de referência em São Luís


Para o doente, ser internado pode significar não ver ninguém próximo por semanas – em um momento em que o afeto se faz muito necessário. “Gostaríamos de ter tecnologia disponível para fazer chamadas entre os pacientes isolados e a família ou mesmo para mantê-la informada mais regularmente”, diz a assistente social Denise Pires, 56 anos, que compõe a coordenação de políticas institucionais do HUCFF, no Rio. “Meu coração fica partido com tantos velhinhos internados sozinhos. Eu já fiz ligações de vídeo entre pacientes e os filhos, mas nem sempre isso é possível, principalmente quando atendemos muita gente”, diz a cardiologista Stéphanie Rizk, 33 anos, que atua no tratamento de pacientes graves em hospitais públicos e privados da capital paulista desde o início da crise. Ela trabalha ao lado de Ludhmila Hajjar, 42 anos, cardiologista e intensivista do Instituto do Coração (Incor) do HC, em São Paulo, e de outros hospitais. Ludhmila lidera os protocolos assistenciais e de pesquisa da criação de hospitais de campanha em Goiânia e no Rio de Janeiro. Na capital carioca, são prometidos cerca 1,8 mil leitos em equipamentos do tipo – o primeiro, no Riocentro, foi entregue em 19 de abril ainda sem alguns equipamentos e data para começar a funcionar.
Devido aos seus esforços, o nome dela foi mencionado como possibilidade para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Luiz Henrique Mandetta. O presidente Jair Bolsonaro teria chegado a ligar para ela. Contudo, na semana em que Ludhmila deu uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo se posicionando contra o uso experimental da cloroquina (medicamento usado para combater a malária), contrariando a opinião do presidente, Nelson Teich foi anunciado como novo ministro. A médica não comenta o assunto. Para Ludhmila, trabalhar no SUS sempre foi prioridade. “Lidar com essa pandemia é o maior desafio da minha vida, que é dedicada à saúde pública. Esse é o maior inimigo que já tivemos”, afirma.
De 20 de abril até agora. A luta que não acabou
O intervalo entre o final de abril e metade de maio foi apontado como o momento em que a pandemia da Covid-19 entraria em sua pior fase no Brasil. Não há como duvidar. As cinco semanas anteriores foram suficientes para uma escalada de casos e de mortes – até o dia 22 de abril, quando fechamos a mais recente edição de CLAUDIA, eram 2 924 vidas perdidas. No momento em que a revista chega as bancas, neste 2 de maio, 6 434 mil vidas já haviam sido perdidas – são mais de 400 mortes registradas a cada dia nesse período. Não há sinais de desaceleração. Desde o sábado, 11 de abril, em que a equipe do até então único hospital de referência do Amazonas se viu sem respiradores, as mortes registradas no estado multiplicaram em oito vezes; os corpos são acomodados em frigoríficos e enterrados em valas comuns na capital. A população teme até ficar sem caixões para enterrar seus entes queridos. Além disso, a chegada de infecções a aldeias indígenas no norte do país preocupa. Bahia, Maranhão e Pernambuco já contam as primeiras centenas de óbitos sem conseguir testar todos os casos; o Paraná se aproxima de atingir seus primeiros cem mortos.
O estado de São Paulo já bateu a marca de dois mil mortes (o dobro do registrado cerca de dez dias antes); o Rio de Janeiro contou um novo caso a cada três minutos e meio no dia 21, com as UTIs no limite já naquele dia. Desde a semana passada, os hospitais da capital são incapazes de receber novos casos graves e pacientes são encaminhados para o hospital mais próximo ainda com vagas, em Volta Redonda, a 120 quilômetros da capital fluminense. A técnica de enfermagem Michelle Ornelas, 39 anos, atua no Hospital Ronaldo Gazolla há dois anos. Em sua enfermaria, chegaram os primeiros pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, que logo ocupariam todo o hospital; desde então, já viu duas mortes de doentes que pioraram subitamente, sem tempo de transferência para a terapia intensiva. “Uma foi uma mulher de menos de 60 anos, que estava estável e sem precisar de catéter, mas perdeu oxigenação muito abrupta”, conta ela, que ainda registra muito mais altas do que pioras. No final de semana de 25 e 26 de abril, o hospital recebeu um contêiner que será usado como necrotério para os mortos pelo vírus. “Não foi um susto, porque já esperávamos mais mortes do que antes”, diz Michelle. Ela mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e está escalada para trabalhar no hospital de campanha a ser aberto no município; espera usar o mês de experiência acumulada na linha de frente, que a faz agir com surpreendente tranquilidade, para reforçar o combate no novo equipamento. A abertura dos hospitais de campanha do Rio vem sendo adiada e apenas o do Leblon, com 2,2% do total das vagas prometidas, está em funcionamento. Em todo o Brasil, as perspectivas não são das melhores, mas há certo conforto em saber que essas e muitas outras mulheres estarão lá para oferecer cuidado e acolhimento.
Até o fim da pandemia no Brasil, CLAUDIA continuará contando os bastidores do combate à Covid-19 pelo olhar das mulheres profissionais de saúde. Se você é uma delas e gostaria de compartilhar como tem sido os seus dias, escreva para a editora pelo e-mail leticia.paiva@abril.com.br.
Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO