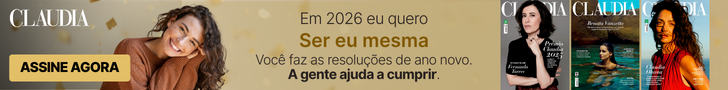Ícaro Silva: “Eu quero ver a cultura preta queer num lugar gracioso”
Com os pés no chão e a cabeça nas nuvens, um dos atores mais talentosos do país mostra como o afeto e os sonhos também fazem parte do processo criativo

Extraordinário. Talvez essa seja a melhor palavra para descrever Ícaro Silva. Pisciano nascido no dia 19 de março, data que também celebra o aniversário de sua mãe, ele ganhou nossos corações como Rafa, em Malhação (2004-2007). Antes disso, porém, já tinha escrito livros infantis — seu contato com a literatura foi incentivado pelo pai — e atuado, aos 11 anos, na novela Meu Pé de Laranja Lima (1998), da Band. Hoje, aos 35, ele coleciona papéis emblemáticos na TV, no cinema e no streaming. Inclusive, está no ar como Leonardo, seu primeiro vilão, em Cara e Coragem, da Rede Globo.

Mas descobriu no teatro musical uma outra liberdade. De Elis, A Musical (2013-2016) até Romeu e Julieta – O Musical (2018 2019), ele usa os palcos para fazer o espectador acessar a sua criança interior. “Eu quero ver a cultura preta queer num lugar gracioso. E quando falo isso, é no sentido literal da palavra: do que é a graça divina, iluminado pela beleza espiritual”, conta. Depois do sucesso de Ícaro and The Black Stars, ele rascunha um novo projeto que inclui álbum e show, “mas não é só sobre música, é também performance, dança, beleza e estética negra”.

A capacidade heróica que essa vertente artística traz, segundo ele, é um sopro de vida. “Isso para um sonhador é lindo.” E para quem tem nome de mito grego e Carolina Maria de Jesus como uma de suas referências, nada poderia ser menos que extraordinário — veja só. “Quando li Quarto de Despejo, pensei: ‘que mulher mágica!’ Ela estava na favela, na década de 1950, e decidiu escrever um livro. Ela, para mim, era uma sonhadora nata.” Longe dos holofotes e das fofocas de internet, a conversa a seguir caminha entre passado, presente e futuro, resgatando memória, projetando ideias e reverenciando o poder do afeto. Prazer, Ícaro Silva:

Aos 35 anos, olhando em retrospecto, o que foi importante na construção do Ícaro de hoje?
Uma coisa muito nítida e especial, e que eu consigo ver com a maturidade, é ter tido uma família estruturada. Porque a desestruturação é uma realidade brasileira: muitas com mães solo ou aquelas em que os pais têm uma relação difícil e se separam com os filhos ainda crianças… Mas a minha sempre foi afetivamente estável. É uma coisa que fez (e faz) diferença na minha vida. A minha mãe nos deu muito amor e carinho, ela também tinha conversas com a gente em relação à autoestima e ao nosso senso de beleza. E meu pai sempre quis que a gente fosse correto. Isso me endureceu em vários aspectos, mas também me preparou para o mundo, que é duro. E quando o seu corpo é dissidente, ou seja, se você é mulher, ou preto, ou LGBTQIA+, você vai passar por momentos em que é preciso ter ferramentas afetivas, e meus pais trouxeram isso com bastante dedicação.

Um afeto transformador, imagino.
Eu cresci na periferia [em Diadema, São Paulo], sem recursos, mas nunca faltou afeto. E isso é muito legal porque, quando eu era criança, queria ter coisas materiais que não podia, mas eu acredito que o cuidado curou essas feridas. Hoje, adulto, entendo que o que eu mais precisava, e tive, era esse afeto o tempo todo.

Isso te ajudou no trabalho?
Depois dos 30, entendi que a minha função nesse planeta é comunitária, e isso também tem a ver com a minha mãe, com a minha família, com o senso de comunidade que uma pessoa da periferia desenvolve. Tenho uma memória que amo da infância: morávamos em uma favela que foi se construindo, de barracos para casas de alvenaria. As pessoas estavam ganhando dinheiro e foram fazendo melhorias, mas, para isso, a ajuda uns dos outros se fazia necessária. Então, tinha o “bater a laje” em troca de um churrasco. Guardo essas cenas de areia, concreto, cimento, da comida sendo feita. Era senso de comunidade, e ficou latente em mim. Vejo o quanto quero refletir isso no meu trabalho, essa importância da gente ser coletivo.

Um resgate que você fez, inclusive, no teatro-musical The Black Stars. Pensando nessa missão, quais comunidades você gosta de construir, considerando a sua relação com o público?
Eu queria ter uma carreira mais low profile. Porém, aos 16, veio Malhação e, com ela, um contato com a fama bastante traumático. As realidades brasileiras e os arquétipos construídos estão presentes. Por muitas vezes, eu via refletido em mim, mesmo sendo uma pessoa famosa, esse subjugo que o racismo traz ou a naturalização da superexposição. São vários atravessamentos que fazem parte da experiência de uma pessoa preta queer no Brasil.
Fui ficando mais velho e com um pé atrás para falar. Queria ser reconhecido pelo meu trabalho e não por viralizar nas redes sociais; quero que as pessoas me vejam no teatro e na TV, e que aquilo encha os olhos delas. Contudo, nos últimos anos, percebi o quanto as coisas que eu falo geram identificação. E isso é poderoso, ainda: é uma chave transformadora, porque a gente entende que a nossa história [enquanto país] é conturbada. Estamos vivendo um momento de polarização extrema, e você vê que não existe espaço para escuta. Quando eu me percebo transformador nos meus discursos ou nos meus trabalhos, vejo que temos a chance de construir algo novo. Por isso, agora, o meu contato com o público vai no sentido de absorver e aprender.

E, dentro de tudo isso, o que você faz para cuidar de si?
Comecei a fazer terapia esse ano. Eu sempre fui meio jovem místico, indo para caminhos mais holísticos e espirituais. Mas, em 2020, quando a gente precisou se trancar em casa e esperar sem saber o que iria acontecer, tivemos que olhar para dentro. Nesse tempo, desenvolvi o hábito — por favor, não dê risada — de tomar café da manhã. Foi isso que me fez perceber o quanto eu deixava de me cuidar, o quanto o meu cotidiano não estava voltado para mim, o quanto eu gostava (e ainda gosto) de bancar o super-herói (estou trabalhando na terapia). E isso é algo bastante característico do que a sociedade entende por ser homem. Estou desconstruindo muita coisa, e uma delas é essa falta de autocuidado como uma certificação de masculinidade.

Como tem sido essa desconstrução toda?
Tenho tido mais conversas comigo mesmo. É libertador, embora dolorido, perceber que precisamos ser honestos com nós mesmos. Tentar fugir da nobreza eterna, algo que vejo bastante ligada à masculinidade preta. Essa invulnerabilidade — e não falo nem do “não chorar”. É mais sobre uma imagem impecável, novamente, do super-herói, de ser sempre nobre nas atitudes e pensamentos. Agora, eu me permito viver os sentimentos ruins que tenho para eles não ficarem presos dentro de mim. Me permito sentir raiva e frustração; faço carinho na minha criança interior. Olho para as coisas com um pouco mais de racionalidade: é através dela que eu liberto as minhas emoções. A racionalidade é entender-se vulnerável. Eu tenho mais acolhimento comigo, com o Ícaro torto, o Ícaro raivoso, o Ícaro arrogante. Eu tento ser quem eu sou, com todas as qualidades e todos os defeitos, justamente para conseguir melhorar.

E o seu encontro com o feminino dentro de você, te ajudou nessa desconstrução?
Tudo está conectado, e meu abraço ao meu feminino está relacionado com a capacidade de ouvir. Tiveram coisas na minha vida que me fizeram olhar para a minha trajetória enquanto homem e ver como o meu feminino foi silenciado. Eu sempre fui uma criança sensível, o mundo me atravessava com muita força. As coisas me tocam, mas social- mente vamos perdendo isso. Só aos 21, na faculdade, entendi a minha energia feminina de cuidado, fluidez, afeto e capacidade de escuta, coisas intrínsecas ao teatro. O equilíbrio entre feminino e masculino em nós vamos buscando ao longo da vida. Me intitulo bicha preta, considerando o “bicha” aquele homem que se permite ser atravessado pelo feminino e que dialoga com ele honestamente. Eu entendo totalmente a minha masculinidade porque sei exatamente onde está o meu feminino.

Você fala bastante em sonhos. Pensando no seu nome, na sua profissão, o que seria esse direito de sonhar?
Eu adoro esse arquétipo do sonhador, do Ícaro, das asas. Meu pai me deu esse nome. E eu acho isso bonito porque é uma semente de um sonhador que estava preso dentro dele. Para mim, é um presente. Não sei o quanto o arquétipo me influenciou ou o quanto eu o influenciei, mas é assertivo, porque eu vejo nessa capacidade de sonhar a possibilidade de se alinhar com a humanidade. Gosto de dizer que eu tenho o pé no chão e a cabeça nas nuvens, olhando para além da Terra, observando tudo o que é vida, lá fora e aqui dentro. E olhar para esse absurdo que é viver, me traz a capacidade de sonhar. Ou seja, a própria conexão com o que é mais simples — porque o simples já é extraordinário — me faz enxergar que tudo é possível.